A mais recente iniciativa de Ana
Gomes, eurodeputada eleita pelo PS, permitiu que Rafael Marques, jornalista
angolano, e duas testemunhas dos crimes sanguinários do poder angolano nas
Lundas – Linda Moisés da Rosa e
Mwana Capenda –, realizassem uma
conferência de imprensa, em Lisboa, na representação da União Europeia.
Cidadãos portugueses e
angolanos, uns mais oficiais do que outros, gadgets
à parte, assistiram aos relatos lancinantes das atrocidades perpetradas em nome
de um regime miserável, alguns dos quais fazem parte do livro "Diamantes
de Sangue - Corrupção e Tortura em Angola", de Rafael Marques, editado
pela Tinta da China, em 2011.
Mas a conferência, intitulada
"Diamantes, Milionários, Violência e Pobreza nas Lundas", revelou
mais, muito mais.
Em primeiro lugar, revelou o tipo
de Estado que existe, hoje, em Angola, o tal que tem as portas abertas, com
mais ou menos passadeira vermelha, em Portugal.
Em segundo lugar, revelou que,
entre os notáveis e o povo, há sempre alguém que resiste, que não se deixa
intimidar e comprar, mesmo que tenha de pagar o preço da tortura, de todo o
tipo de violência e até da brutal perda de entes queridos.
Em terceiro lugar, revelou que
Portugal continua na lama, cada vez mais dependente dos capitais de países
totalitários, mais ou menos sanguinários, desde a China a Angola.
Por último, revelou também, não
obstante esta falta de sentido estratégico e de vergonha nacional, que um banco
português – BANIF –, liderado por Luís Amado, ex-ministro
dos Negócios Estrangeiros de José Sócrates, pode estar à beira de servir de
plataforma para um esquema de lavagem de dinheiro de um regime corrupto e
criminoso como o da Guiné Equatorial, liderado por Obiang Nguema e pela sua família.
Nem mesmo o facto dos
contribuintes portugueses terem injectado 1100 milhões de euros para salvar o
banco português parece ser suficiente para garantir a atenção e a firmeza das entidades
de regulação financeira.
Os portugueses precisam de saber
quem são e o que representam os novos detentores particulares e institucionais de
posições-chave na economia e nas finanças de Portugal, bem como os riscos que decorrem
dos processos de transição nalguns países exportadores de capital para
Portugal.
Determinados sectores, incluindo
os órgãos de comunicação social, estão a ser tomados por aqueles que
representam outro way of life: a
ditadura, o crime, a corrupção, o nepotismo e a censura.
Mais do que a gritaria inflamada
contra Pedro Passos Coelho, por estar a vender o país a retalho, é isto que
vale a pena prevenir, denunciar e até combater.
E, como sempre, há quem
esteja do lado certo da História: Ana Gomes, Rafael Marques Rafael Marques, Linda
Moisés da Rosa e Mwana Capenda são exemplos de quem continua a manter-se no campo
dos direitos humanos, da transparência, do diálogo, sempre no lado oposto do
enriquecimento e branqueamento de
criminosos e facínoras.
Os órgãos de comunicação social,
designadamente as televisões, pública e privadas, tinham obrigação de ter garantido
uma ampla cobertura do acontecimento para informar os portugueses, porque é o
nosso futuro que está em causa.
Será que podiam?
Felizmente, com mais ou menos
qualidade, a verdade é que a Agência Lusa deu conta da iniciativa, permitindo
umas breves avulsas na generalidade da imprensa. Mas não chega. É
preciso mais da parte de quem tem o dever e a missão de informar, com rigor e
isenção, sobre o que se está a passar dentro e fora de portas.

.jpg)

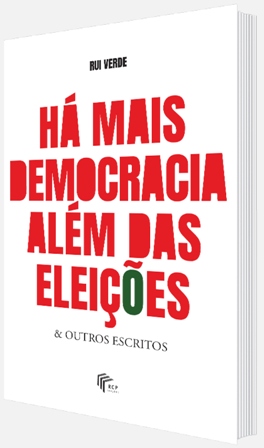
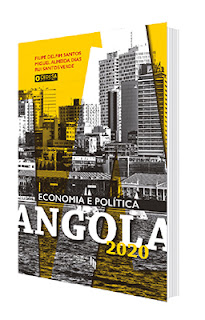



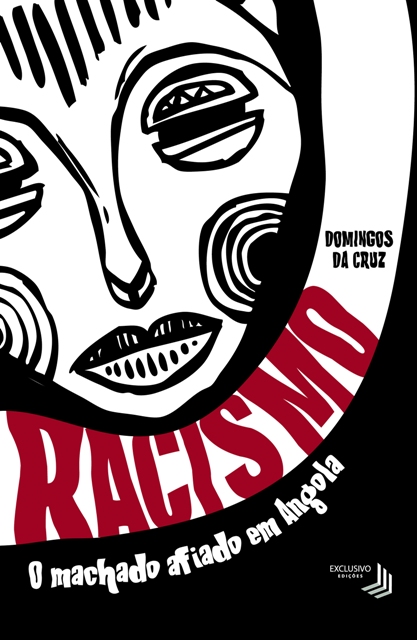






.jpg)







