O funcionamento ilegal das secretas continua a ocupar a ribalta mediática e a alimentar todo o tipo de suspeições, arrastando na lama a classe política, os governantes, os deputados, o Estado e um dos seus departamentos mais sensíveis.
O caso é gravíssimo e a ausência de medidas exemplares para cortar o mal pela raiz está a provocar um mal-estar generalizado e a maior perplexidade, interna e externa.
Se já era preocupante saber que as secretas funcionaram em roda livre durante anos a fio, mais grave ainda é constatar que a 1ª comissão parlamentar (Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias) se deixou enredar no branqueamento de conclusões óbvias.
A notícia de que fiscalizador e fiscalizado pertencem à mesma loja maçónica apenas reforça o que todos já dão como certo: a culpa vai morrer solteira nas secretas. Aliás, este caso não é ímpar. Há muito tempo que Paulo Morais, ex-vereador da Câmara do Porto, tem vindo a denunciar as ligações de deputados aos mais diferentes interesses ao arrepio das mais elementares regras de transparência.
De facto, o rei vai nu. No poder e nos mais diversos sectores de actividade privados não faltam exemplos desta espécie de amiguismo, de lealdades opacas e caninas, que continua a ser entendido como um seguro de vida para fazer carreira ou para escapar ao arbítrio.
Na origem de toda a controvérsia está a crónica falta de cultura democrática e o desrespeito pela responsabilização política de quem prevarica no exercício das mais altas funções de Estado. E mais. Revela que o tráfico de influências continua a ser um dos problemas mais graves da democracia, alimentando todos os desperdícios e impunidades.
Neste momento, já não é possível escamotear a situação surrealista em que o país vive: Como é possível que o chefe dos serviços de informações continue em funções depois de tudo o que se sabe, e porventura ainda virá a saber, sobre o funcionamento das secretas?
A questão não teve resposta até ao momento, o que deixa Pedro Passos Coelho, o primeiro responsável pelos Serviço de Informações da República Portuguesa (SIRP), numa situação politicamente desconfortável. De igual modo, é preciso não esquecer, nem deixar passar em claro, o silêncio sepulcral do presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, sobre uma matéria que está a suscitar as maiores inquietações na sociedade portuguesa e a manchar o nome do país a nível externo.
Ao permitirem o arrastamento desta situação, que cria um vazio que permite todo o tipo de especulações, o presidente da República e o primeiro-ministro estão a contribuir para o avolumar de uma situação explosiva que lhes pode rebentar nas mãos mais tarde ou mais cedo.
No momento em que a credibilização das instituições e da governação é essencial para o futuro do país, e em que os sacrifícios severos são impostos aos portugueses, a estranha e aparente brandura em relação à comunidade dos espiões é incompreensível e até chocante.
A forma como o chefe do governo lidou, e continua a lidar, com um caso de Estado da maior sensibilidade é mais do que um desvio colossal, é uma enorme irresponsabilidade política. E obriga, obviamente, à seguinte questão: Pedro Passos Coelho está refém de alguma coisa que os serviços de informações sabem?

.jpg)

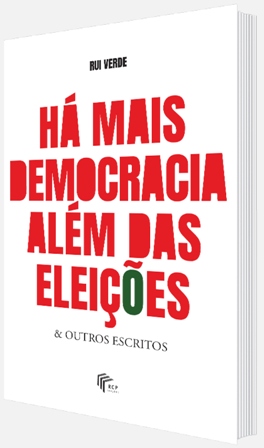




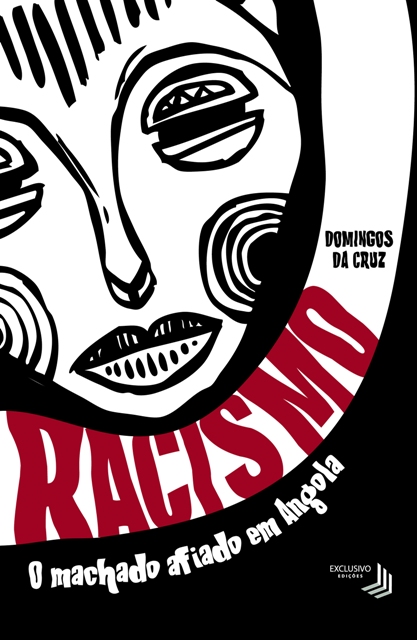




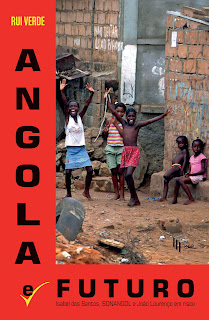

.jpg)







