A deliberação
da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) sobre o caso
Relvas/Público é um tratado sobre o estado a que chegou o país e a comunicação social.
Sob a capa
dos factos e da ponderação do enquadramento legal ― não obstante algumas observações que abrem a porta a equívocos
perigosos (ponto 174) ―, a
deliberação obedeceu a uma única prioridade: salvar a face do poder.
Em primeiro lugar, tentou salvar a face do
ministro. A averiguação a propósito das pressões "ilícitas" de Miguel
Relvas sobre o jornal Público abriu a porta ao branqueamento. O que estava em
causa, e continua a estar, é apenas saber se existiu um ataque à liberdade de imprensa,
se existiram pressões inaceitáveis sobre uma jornalista e se é possível a um
detentor de um cargo público usar informação privilegiada para condicionar a
actividade de um jornalista através da ameaça da divulgação de dados da sua
vida pessoal.
Em segundo
lugar, tentou salvar a face da direcção do "Público". Em todo o texto
da deliberação, até parece que quem foi ameaçada foi Bárbara Reis, directora, e
não Maria José Oliveira, jornalista. O descaramento é tal que basta verificar
que o regulador abdica de fazer qualquer recomendação, ficando por vagas considerações
que começam por aceitar a tese conspirativa do ministro Relvas.
Em terceiro
lugar, tentou salvar a face da ERC. Quem conhece a história de Carlos Magno, presidente
da reguladora, não podia esperar outra coisa, ou melhor, presume-se que não
terá sido pela sua independência que foi escolhido para liderar a ERC. Aliás, a
leitura cuidadosa do documento revela bem o estilo do seu primeiro signatário:
reverencial com o poder, preocupado em parecer isento e cuidadoso com os
detalhes.
Numa apreciação
mais nua e crua, a deliberação é um hino à hipocrisia que está à altura de uma
comunicação social mais vulnerável e dependente, que aprecia menos o trabalho
do jornalista e valoriza mais a imagem de independência e distanciamento dos
poderes institucionais e instituídos.
Para quem
tivesse dúvidas basta atentar que é o próprio presidente da ERC que assume uma
tentativa desesperada de «cozinhar ou manipular a deliberação», até ao último
minuto, para conseguir a unanimidade no Conselho Regulador, ou seja para manter
a fachada de independência da ERC.
Neste universo
de todo o tipo de golpes de rins não podia faltar uma ponta de cinismo. Ao mesmo
tempo que transborda de cuidados em salvar o ministro, a ERC consegue a suprema
ironia de reabrir o caminho para o segundo funeral político de Miguel Relvas,
ao admitir que sexa teve um comportamento «objecto de um juízo negativo no
plano ético e institucional».
A deliberação
da ERC é uma fraude pelo simples facto que apenas pretendeu consolidar a
situação de precariedade que se vive há muito tempo nos órgãos de comunicação:
a defesa do poder editorial da hierarquia. Não as condições de trabalho dos
jornalistas, neste caso da jornalista, em relação ao poder político; não o do
Público em relação ao governo; mas o da direcção do Público em relação aos seus
jornalistas.
A ERC nunca
defendeu a liberdade de imprensa e os jornalistas. Foi assim com Sócrates.
Ficamos a saber que também assim é com Pedro Passos Coelho.
Agora, só
falta saber o essencial: qual vai ser o futuro de Maria José Oliveira?
Certamente, a
jornalista não vai passar pelos jardins de Belém e de São Bento, nem tão-pouco
corre o risco de ser nomeada para presidir à ERC.
Falta pouco
para todos se calarem.
A vidinha
continua.

.jpg)

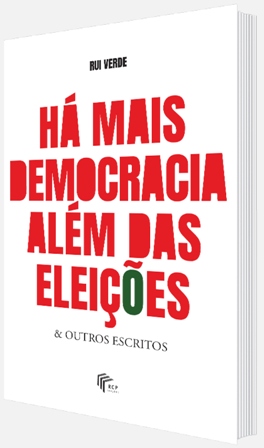




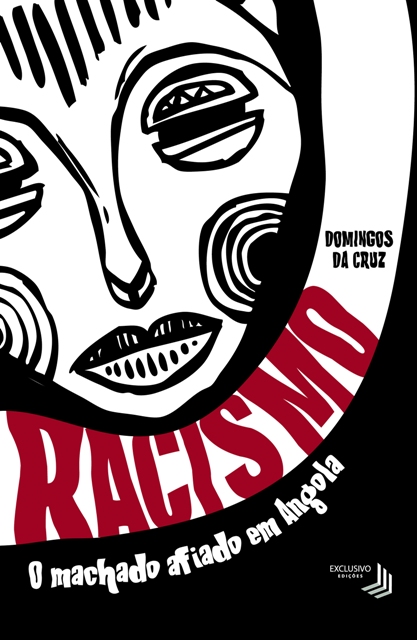




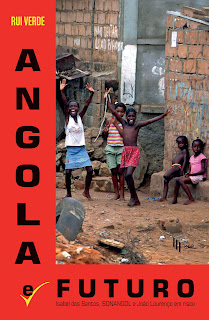

.jpg)







