Enquanto os direitos individuais são cortados pelos regimes "democráticos", antes e depois da pandemia, muitos continuam a olhar para o lado para melhor esconder os problemas existentes.
Aliás, poucos são aqueles que têm legitimidade para falar dos perigos do extremismo político, porque simplesmente há uma maioria que (ainda) não quer ver o que se está a passar por cá e por essa Europa fora.
À excepção de Ana Gomes e de mais uns poucos, que não cessam de denunciar que o rei vai nu, as decisões políticas de geometria variável ou o papão do fascismo que vem aí têm servido para distrair os cidadãos das brutais contradições em que vivemos.
A táctica do pragmatismo já é velha: quando algo vai mal é criado um risco de um mal ainda maior que não existe.
É assim que as democracias vão apodrecendo, hoje como ontem.
Portugal está cheio de expedientes: a lei é ilegal, mas é justa; o gesto é arruaceiro, mas fruto de uma frustração; a prioridade é salvar vidas, mas os cidadãos são condenados à miséria; em suma, há políticos que roubam, mas fazem.
Estas soluções “criativas” estão a criar um país de ficção, de faz-de-conta e de mentira em que, dia-a-dia, os portugueses se estão a deixar enredar perigosamente.
A excepcionalidade não justifica abrir a porta ao capricho ou ao arbítrio, nem a tolerância alguma vez se pode confundir com o império da bandalheira.
Os fanáticos e os “justiceiros” não acrescentam.
Mas abafar quem, com independência, enfrenta esta “arte” de empurrar com a barriga não é uma solução de futuro.
Reconhecer os cidadãos “não-conversáveis”, como se auto-intitulou Maria José Morgado, no programa “Primeira Pessoa”, da RTP, faz cada vez mais falta neste país à deriva.

.jpg)

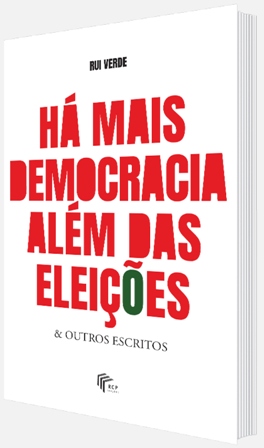




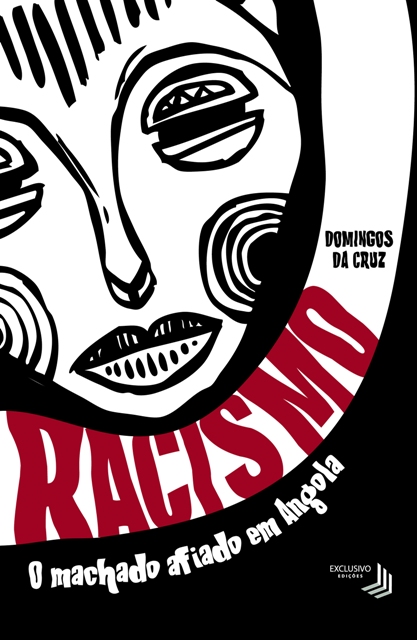




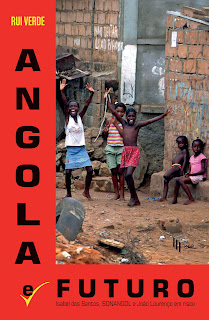

.jpg)







